A alta crítica e os critérios internos
-
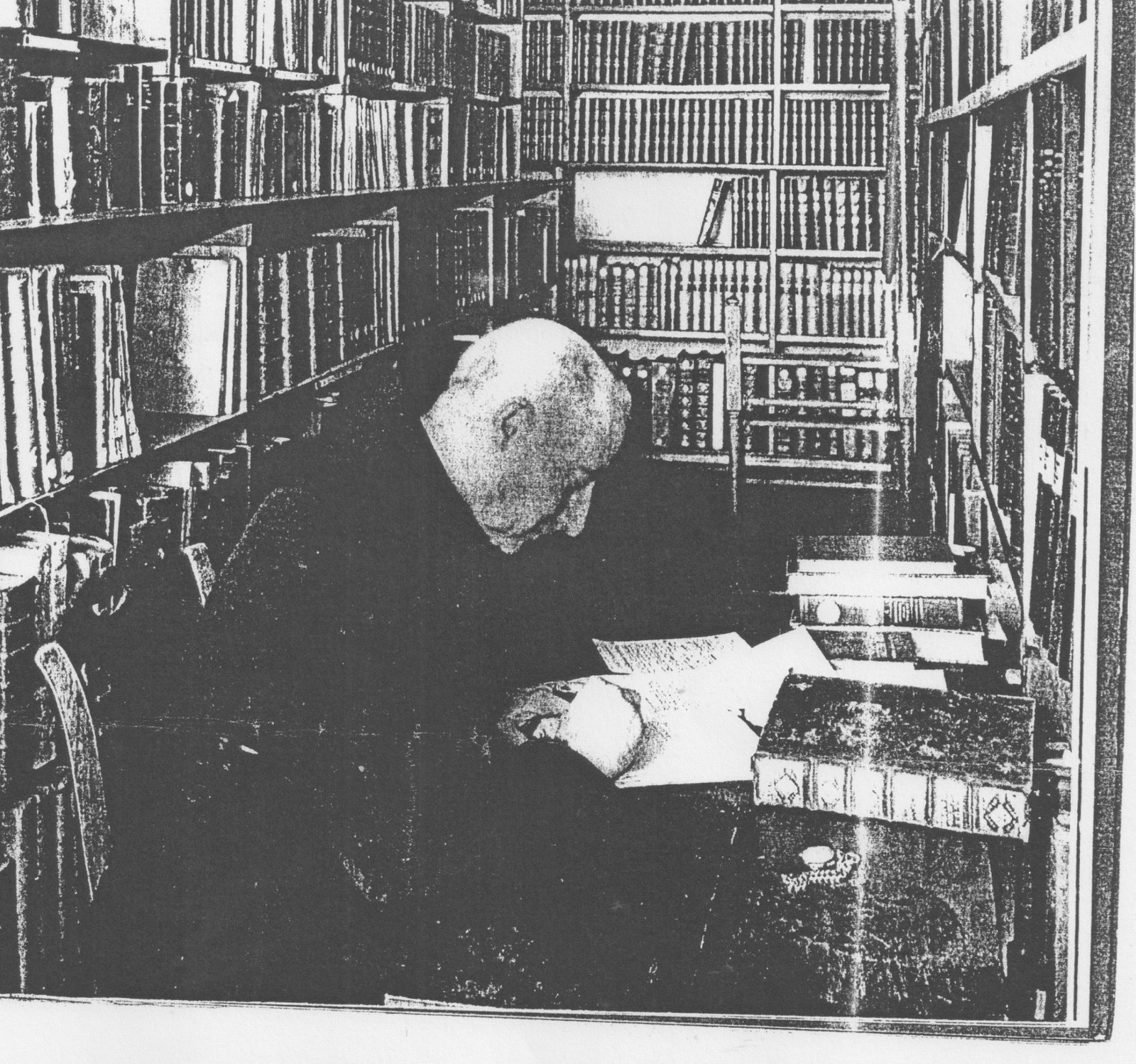 Dom Jean de Monléon
Dom Jean de Monléon - 07 Jul, 2025

Excerto de Jonas, pp. 139-146
Em si essa ciência seria perfeitamente legítima e poderia prestar grandes serviços. Infelizmente, na prática, ela não cessou, no século XX, de se deixar penetrar pelo cientificismo, pelo racionalismo e pelo modernismo, agindo sobre a fé daqueles que se dedicam a ela quase como o ácido sulfúrico age sobre as substâncias orgânicas. Dispondo de dois elementos para datar as obras do Antigo e do Novo Testamento, os critérios externos (quer dizer, os testemunhos que emanam da história e da Tradição) e os critérios internos (quer dizer, os traços que podem indicar o estilo, o vocabulário, a evocação de algum fato), ela não tem deixado de dar prioridade aos segundos, apesar deste aviso de Leão XIII:
“Convém que os professores das Sagradas Escrituras […] sejam instruídos e se exerçam na ciência da verdadeira crítica. Infelizmente, para maior pena da religião, surgiu um sistema que se denomina “alta crítica” (criticæ sublimoris), cujos discípulos afirmam que a origem, a integridade e a autoridade de todo livro saem, como dizem, dos únicos critérios internos. Pelo contrário, é evidente que, quando se trata de uma questão histórica, tais como a origem e a conservação de alguma obra, as testemunhas da história têm mais valor do que todas as outras, e são elas que se deve buscar e examinar com o maior zelo. Quanto aos critérios internos, eles são em sua maioria menos importantes, de tal sorte que não podemos bem invocá-los senão para confirmar a tese. Se agirmos de outro modo graves inconvenientes se seguirão, pois os inimigos da religião terão confiança redobrada para avançar e atacar a autenticidade dos livros sagrados. Esse tipo de alta crítica que se exalta resultará, enfim, em que cada um seguirá seus gostos e preconceitos durante a interpretação. Assim a luz que buscamos não virá das Escrituras e nenhum benefício disso virá para a doutrina, mas veremos manifestar-se com evidência essa nota característica do erro que é a variedade e a diversidade de opiniões — desde já a conduta dos chefes dessa nova ciência o demonstra. Por outro lado […] eles não hesitarão em descartar os Sagrados Livros, as profecias, os milagres e todos os outros fatos que ultrapassam a ordem natural […]”
Vemos que Leão XIII denunciava com uma precisão maravilhosa todos os abusos, todos os erros que temos visto proliferar-se e invadir o domínio da exegese desde os últimos anos. A confusão entre a verdadeira e a falsa crítica, a negação do sobrenatural, a rejeição da profecia e do milagre — de que Jonas fornece um exemplo luminoso —, a primazia conferida aos critérios internos etc.
O Papa, no entanto, não proíbe a sua utilização. É permitido recorrer a eles seja para confirmar os testemunhos da história, seja para suprir as suas falhas quando houver necessidade. Mas o que se defende expressamente é a inversão dessa ordem, é colocar os critérios internos antes dos externos.
Ora, é só que o desconhecimento desse princípio fundamental tem permitido à crítica moderna proceder incansavelmente em seu trabalho de cupim nos ensinamentos da Tradição. É unicamente ao invocar argumentos tomados do vocabulário, da sintaxe, da repetição das mesmas fórmulas, de narrativas duplas, de lacunas e defeitos dos relatos, etc., que pudemos, contra todos os testemunhos formais da história, negar a Moisés a paternidade do Pentateuco, dilacerar Isaías em três, rejeitar Daniel ao tempo dos Macabeus e empurrar Judite, Jonas, Tobias e muitos outros para o reino da ficção e dos escritos lendários.
Todavia, o bom senso mais elementar mostra que, necessariamente, há nos critérios internos uma considerável parte de subjetivismo e que uma extrema prudência se faz necessária nas conclusões que se pretenda tirar deles. “Quase todos aqueles dos quais nos servimos contra a origem mosaica do Pentateuco repousam em princípios falsos ou em petições de princípio. E podemos dizer o mesmo quanto aos outros livros do Antigo e do Novo Testamento¹.”
Quando nos persuadimos a priori de alguma coisa, nada é mais fácil do que encontrar indícios que corroborem à nossa opinião. Os espíritos mais finos e mais instruídos podem perder-se nisso. É assim que, no século III da nossa era, um célebre doutor, Dionísio de Alexandria, se convencia de que o Apocalipse não poderia ser obra do apóstolo São João. Ele não encontrou dificuldades para descobrir mil e um critérios que justificassem essa opinião. O seu raciocínio merece ser citado.
“Sem dúvida”, diz ele, “a obra foi escrita por um João. Mas qual João é esse nós não sabemos. Os homônimos do discípulo amado são, com efeito, numerosos. Pois, por afeição a ele, por admiração, por vontade de ser, como ele, amados do Senhor, muitos buscavam carregar o nome que era seu. No entanto, os pensamentos, as expressões e o estilo [do Apocalipse] revelam que aquele que compôs essa obra não poderia ser o mesmo que escreveu o quarto evangelho e a epístola². Entre estes dois últimos livros o parentesco é manifesto […] Frequentemente encontramos, tanto em um como em outro, [os conceitos] de vida, de luz que espanta as trevas, de verdade, de graça, de alegria; a carne e o sangue do Salvador, o julgamento, o perdão dos pecados, o amor de Deus por nós, o preceito de nos amarmos uns aos outros, a obrigação de guardar todos os mandamentos; a reprovação do mundo, do diabo, do Anticristo; a promessa do Espírito Santo, a filiação divina, a fé que é constantemente exigida de nós etc. Em resumo, se percebemos de um canto a outro os caracteres [dessas duas peças], é fácil notar que elas têm uma única feição. Por outro lado, o Apocalipse é totalmente diferente […] Ele não se aparenta nem com um livro nem com o outro, não se assemelha a eles e não tem, digamos assim, uma sílaba em comum com eles. Nem a epístola nem o evangelho contém a mesma alusão a ele e vice-versa. Além do mais, os respectivos estilos dessas obras são nitidamente diferentes. No evangelho e na epístola não somente o grego é impecável, mas também o autor escreve a sua exposição de uma maneira totalmente correta quanto à língua, ao raciocínio e à composição. Em vão procuraríamos neles algum termo bárbaro, um solecismo ou mesmo um provincialismo. Por outro lado, o autor do Apocalipse fala num dialeto e numa língua que não são totalmente gregos, se utiliza de termos inadequados, de barbarismos, e comete solecismos algumas vezes³.”
Essas observações são justas, ao menos em parte. É inegável que o estilo do Apocalipse se distingue sensivelmente daquele dos outros escritos de São João. Mas essa diferença é fácil de se explicar, sem que seja necessário recorrer à hipótese de diferentes escritos. Quando o apóstolo compunha seu evangelho, ele trabalhava à maneira de um historiador ordinário, aplicando-se a preencher as lacunas dos Sinópticos. Quando ele redigia suas epístolas, falava enquanto bispo, levando uma colaboração pessoal e efetiva à ação do Espírito Santo. Em Patmos, ao contrário, cego, derrubado, reduzido a nada pela sublime visão que se desenrolava diante dos olhos de sua alma, ele não era mais do que um instrumento, um “cálamo” que se deitava docilmente sobre o papel, sem recuperar fôlego nem trocar nenhuma das palavras daquilo que lhe ditava o Verbo, a Palavra eterna e transcendente que não dá satisfação às regras da gramática, forjadas pelos humanos.
Eis, ainda mais perto de nós, o que pensa do crédito concedido aos critérios internos um mestre israelita da ciência bíblica.
“Quando”, diz ele⁴, “para atribuir um livro a autores diferentes, dávamos a meu pai [o argumento da diferença de estilo], ele, sorridente, tirava de sua biblioteca alguns volumes de Goethe, e lia a seu interlocutor algumas passagens de _Reineke Fuchs_⁵, de Fausto, de _Zur Farbenlehre_⁶ e de _Götz von Berlichingen_⁷, e lhe perguntava se essas obras haviam sido escritas no mesmo estilo […] ‘É possível reconhecer se um autor de uma dessas obras é igualmente o autor das outras?’ Ou então ele tomava Shakespeare e lia os trechos de Sonho de uma noite de verão, de Ricardo III, de Mercador de Veneza, de Tempestade e dos Sonetos. ‘Sem dúvida’, dizia, ‘o estilo é a expressão da personalidade, mas ele pode modificar-se totalmente quando sob a influência de certos fatores conhecidos: o gênero do assunto tratado, a audiência a que se endereça, a idade do autor, o humor com que se trabalha etc.”
“Se aplicássemos às obras desses grandes escritores os métodos da crítica bíblica, seria necessário identificar ao menos uma meia dúzia de autores escondidos sob o nome de Shakespeare e outra meia dúzia sob o de Goethe.”
“A cada assunto convém o seu próprio estilo. O Rabi Maimônides não fala do mesmo jeito quando disserta sobre os mistérios profundos da divindade como quando ele comenta as prescrições alimentares do Levítico. Podemos dizer o mesmo de Júlio César enquanto escritor, enquanto homem político e enquanto general, ou de Flávio Josefo em A guerra dos judeus ou no Contra Apião.”
Ou de São Jerônimo, conforme ele responda a Rufin ou escreva a Eustóquio; ou do poeta Claudel, do embaixador Claudel etc.
Concluamos, com o Dicionário da Bíblia, dizendo que os critérios internos podem ser de uma grande utilidade, se os empregamos com uma conveniente moderação.
“Mas, se pretendemos colocá-los acima dos dados da história, abrimos a porta a uma liberdade desenfreada, às afirmações arbitrárias e às opiniões subjetivas. Uma crítica sã deve servir-se dos critérios internos e dos critérios externos, concedendo um lugar preponderante, como nos exige sabiamente Leão XIII, a estes últimos, isto é, aos argumentos extraídos da Tradição⁸.""
Tradução: Igor Montez
Notas de rodapé
¹ Suplemento ao Dicionário da Bíblia, t. II, col. 188.
² A primeira Epístola de São João.
³ Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, 1. VII, C. XXV.
⁴ Aron Barth, Valeurs permanentes du Judaïsme, Jerusalém, 1956, pp. 268 e seguintes.
⁵ (N. T.) Reineke, a Raposa. Trata-se de um conto a relatar a história de uma esperta raposa que se mete em encrencas com outros animais utilizando-se de sua astúcia.
⁶ (N. T.) Teoria das Cores. Influente livro sobre o fenômeno das cores. Entende-se por que esteja Dom Jean de Monléon a elencá-lo logo após um conto: uma forma literária descritiva seguida de uma mais poética enfatiza o argumento do autor.
⁷ (N. T.) Götz von Berlichingen da mão de ferro. Peça teatral disposta em cinco atos, cujo protagonista é referente à personagem histórica homônima, um cavaleiro imperial alemão, mercenário e poeta. (1926).
⁸ Suplemento ao Dicionário da Bíblia, t. II, Crítica bíblica, col. 188.